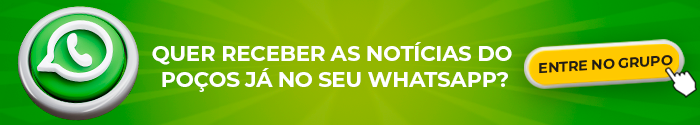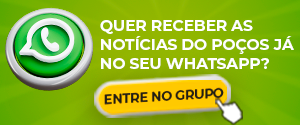Bourdieu, um importante sociólogo francês, realizou um estudo complexo em relação aos mecanismos pelos quais uma classe social se coloca com mais prestígio, poder e dominação em relação a outra. Pensando no trabalho docente da Educação Básica, vou ater em apenas três conceitos: capital econômico, social e cultural.
A desigualdade ocorre via capital econômico, que podemos resumir não apenas na relação monetária, quantidade de dinheiro, mas de investimentos, propriedades, recursos pelos quais o indivíduo consegue gerar e acumular mais riquezas. A desigualdade também se estabelece no acúmulo de capital social, que em linhas bem gerais, seriam os benefícios simbólicos de pertencimento a um grupo, que permite que os membros acessem ao que é produzido nessa coletividade e se fortaleçam em comunhão seja para maiores inserções sociais ou valorizações salariais. E, por fim, e não menos importante, há o capital cultural, que ocorre por todos valores, perspectivas, linguagem, conhecimento, titulações que o sujeito se apropriará ao longo da vida e que servirão como elementos de distinção.
Nós professores não temos o potencial de acumular capital econômico, não somos donos das escolas privadas, nem de rede hoteleira, nem de fábricas, muito menos de bancos. Talvez de uma forma mais genérica possuamos um carro para nos transportar para as diversas escolas e uma casa. Aliás, em tempos de defesa do homeschooling, da perseguição ao que é lecionado, valorização do saber da internet sobrepondo o saber escolar ou a busca em destruir a força dos sindicatos questiono se nosso capital social diminuiu.
E nosso capital cultural? Afinal, temos a titulação de ser professor. Muitos já concluíram pós-graduações, participaram em seminários, congressos, cursos virtuais e presenciais de educação. Nesse sentido, os professores detêm um capital cultural que Bourdieu nomeia como institucionalizado, pois ele se manifesta pela via da diplomação. Porém há duas outras formas pelas quais o capital cultural ocorre que é o incorporado, a cultura que recebemos desde nossa infância, e o objetivado que pode ser adquirido pela aquisição material (compra de uma pintura por exemplo) ou de maneira simbólica na relação entre sujeito e objeto do conhecimento.
Não é difícil perceber que para uma vasta experimentação cultural, a fim de alargar o repertório do saber, duas coisas são extremamente importantes: tempo e dinheiro. É certo que há bibliotecas públicas, exposições gratuitas de arte ou museus com entrada de livre acesso. Porém, também é fato que a vivência cultural exige dinheiro, seja viagens em cidades históricas ou visita a exposições que estão distantes da vida no interior.
O problema é que à medida que o salário é praticamente um valor para a sobrevivência, os educadores se dobram em acúmulo de aulas para conseguir ter uma vida com um pouco mais de conforto e a consequência é menos tempo para o momento do ócio, que segundo o sociólogo italiano Domenico de Masi, é uma parte fundamental para o desenvolvimento da própria criatividade. Atrelado a isso, numa sociedade do consumo, a indústria cultural se aproveita desse curto espaço de lazer para trazer enlatados de informação que nos transformam em meros espectadores, com baixa potencialidade de reflexão, e cair nessa armadilha não é difícil, pois basta usar o controle da televisão.
Através do ócio podemos nos humanizar, nos sensibilizar com coisas que passariam desapercebidas, porque fugimos do automatismo para cultuar um pensamento livre, fortuito, que se entrega a si, ao outro, ao cultivo às diferentes produções artísticas, à possibilidade de vivência em comunidade e sem perceber tecemos uma colcha com vários retalhos simbólicos, revisando inclusive em nossos preconceitos, que na nossa visão míope do dia a dia, não conseguiríamos dar conta.
Isso aconteceu comigo recentemente. Estive pela primeira vez no Rio de Janeiro cheia de medos, reflexo de anos de uma cultura midiática que coloca esse espaço na ótica da violência, da bala perdida, do tráfico. Não quero também reforçar que “o Rio de Janeiro continua lindo”. É evidente que há graves problemas. Mas ir até lá me mostrou gente organizada que luta para que a história das minorias sociais não seja apagada; de profissionais da saúde que dedicaram uma vida a favor da humanização no atendimento aos pacientes diagnosticados como loucos; de pessoas comuns, de todos os fenótipos e idades que deixaram a felicidade tomar conta do seu gingado sob os batuques da bateria de escolas de samba.
Nesse sentido, é um grande engano quando tratamos a formação docente apenas no seu caráter burocrático, curricular ou didático. Ensinar não é explicar o que está no livro. É além disso. Envolve um trabalho de “gastronomia”, entre o que o professor sabe sobre o “prato”, o que o aluno conhece e os “ingredientes” que possuem à disposição. Quanto menos ingredientes simbólicos, menos possibilidades de inovação metodológica, de criação ou menores as chances de aguçar a vontade do estudante na experimentação do menu escolar.
Por isso, se o “prato principal” da formação docente exige tempo e dinheiro, que o cumprimento da regulamentação do piso seja urgente. Enquanto tivermos governadores que recorrem ao Tribunal de Justiça pedindo inconstitucionalidade da lei ou prefeitos que dizem que “lei não discute, lei se cumpre”, mas estão longe de tornar promessa em ação, assistiremos o desalento do trabalho docente e do futuro de gerações que passam pelas escolas.
Triste quando lembramos a frase do educador Darcy Ribeiro quando diz que “a crise da educação não é uma crise, é um projeto”. Porque daí reforça-se a perspectiva que não pagar o piso, previsto em lei nacional é contribuir novamente para que os diversos tipos de capital continuem concentrados apenas para um pequeno grupo dominante.
Ana Paula Ferreira é mestre em Educação e supervisora escolar
“As opiniões contidas neste artigo não refletem necessariamente a posição do Poços Já, que não se responsabiliza por este conteúdo”