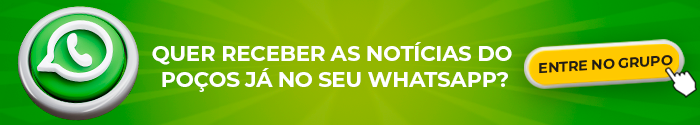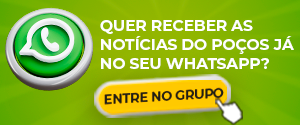Faz mais de ano que comprei um quadro com a frase “tudo passa”. Todos os dias eu deparava com essas duas palavras e ia internalizando, quase num mantra, para aceitar que os anos ficam para trás, cabelos brancos aparecem, filhos crescem, amigos inestimáveis estão presos às fotografias, vivências pelas quais sofremos um dia viram pura recordação.
E por que mesmo sabendo disso é tão difícil concordar que a mudança bata na nossa porta? Por que é tão doloroso reconhecer o que Heráclito disse há milhares de anos de que nada é estático, nem nós mesmos?
Porque envolve a ideia de luto e lidar com a morte não é fácil, seja a morte de entes queridos, seja a morte de tantas coisas… da juventude, das relações, das expectativas, dos planos. Em ambas situações, de uma morte real ou da morte de algo, há a necessidade de ser fazer o funeral (literal ou simbólico) como processo de seguir em frente, de agir sobre o que ficou de nós mesmos, de fechar ciclos.
Mas além da dificuldade do luto existe outro desafio: trabalhar com o sentimento do apego. Sabe a famosa frase do Pequeno Príncipe “Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante”? Resumindo, o apego é isso… uma doação, vínculos, memórias, histórias que fizeram que o objeto amado se torne bonito e especial. Daí temos outra questão: em que medida desapegar envolve descartabilidade?
O sociólogo Balman quando trouxe o termo de modernidade líquida apontou o quanto as coisas estão mais frágeis, fugazes e que se antes era comum o sujeito aposentar no mesmo emprego que trabalhou a vida toda, matrimônios que duravam décadas ou o estudo (técnico ou graduação) já ser quase uma garantia de emprego, hoje nada é seguro, tudo é efêmero.
Mário Sergio Cortella trouxe uma metáfora nesse sentido quando conta que era comum encontros familiares para fazer pamonha e que o trabalho era igualmente proporcional ao tempo em estar junto, de rir, conversar, contar causos e partilhar a produção. Atualmente, na contramão, além dessa prática não ser comum, consome-se macarrão instantâneo feito em três minutos, tudo rápido, tudo veloz para atender nossa lógica desenfreada de tarefas e que nos retira aos poucos das nossas convivências mais genuínas.
Essas convivências autênticas são aquelas em que desnudamos nossa alma. Até porque se na sociedade somos CPF, nas relações comerciais somos cartão de banco e no trânsito CNH, são nas relações mais próximas que podemos sentir que somos únicos e que tornamos o outro também especial. Por isso é tão sofrido encarar esses lutos, pois envolve um período solitário, de não importar com o que importávamos. Aliás, essa palavra “importar” é interessante porque além de se referir ao que damos importância, é também verbo do que trazemos de outros lugares para dentro do nosso espaço, e nesse momento de solidão, o que mais precisamos é de nos abastecer de nós mesmos, até para diferenciar entre o desapego e a descartabilidade.
Talvez uma frase que ajude nesse sentido é a de Frida “Onde não puderes amar, não te demores”. Não significa que as coisas devem permanecer apenas por hábito, tradição ou qualquer coisa do tipo. Contudo, não é tampouco descartar, porque descartamos o que é facilmente trocado, é o guardanapo que não virou papel de mensagem de paquera. Se há luto, é porque houve afeto, fomos afetados e, portanto, a ideia não é descartar o que foi, mas de saber que se não há condições de ser e de fazer o outro feliz, que tomemos outros caminhos.